
Desde os ataques liderados pelo Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, Israel vem executando um ataque devastador contra a população civil da Faixa de Gaza, bloqueando a ajuda humanitária, deslocando internamente 75% da população de Gaza, destruindo sistematicamente a infraestrutura civil e bombardeando indiscriminadamente. Até o momento, mais de 34.000 palestinos foram mortos, incluindo mais de 9.500 mulheres e mais de 14.500 crianças. Mais de 10.000 palestinos estão desaparecidos sob os escombros, e mais de 77.000 ficaram feridos. Crianças têm morrido de fome e desnutrição devido ao uso da fome por Israel como método de guerra.
Em um processo movido contra Israel pelo governo da África do Sul, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) considerou a operação militar de Israel um genocídio plausível. O governo dos EUA sob Joseph R. Biden tem sido absolutamente cúmplice de Israel dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Ao relatar a situação, a grande mídia tendeu a iniciar sua linha do tempo para reportagens em 7 de outubro, com pouco ou nenhum contexto histórico fornecido para ajudar os consumidores de notícias a entender por que o braço armado do Hamas romperia a cerca da linha de armistício que cercava Gaza para perpetrar o que chamou de “Operação Al Aqsa Flood“.
Editores do The New York Times chegaram a instruir jornalistas a evitar descrever a Cisjordânia e Gaza como “territórios ocupados”, apesar de Israel estar ocupando o poder em ambos os territórios sob o direito internacional, com sua ocupação beligerante em curso há quase 57 anos, levando órgãos da ONU e organizações internacionais de direitos humanos a descrevê-lo como um regime de apartheid.
Os repórteres do Times também foram instruídos a não usar o termo “limpeza étnica” sob o argumento de que ele é “historicamente carregado”, embora cerca de 80% da população de Gaza sejam refugiados ou seus descendentes da limpeza étnica da Palestina em 1948, que foi o meio pelo qual o autodenominado “Estado judeu” surgiu.
O The New York Times ainda instruiu seus repórteres a restringir o uso da palavra “genocídio”, juntamente com “massacre” e “carnificina”, alegando que essas palavras são “incendiárias”. Enquanto isso, o The New York Times não tem problema em usar as palavras “massacre” e “carnificina” ao se referir aos israelenses mortos por palestinos. Uma análise do The Intercept descobriu que, nas páginas do The New York Times, Washington Post e Los Angeles Times, “o termo ‘massacre’ foi usado por editores e repórteres para descrever o assassinato de israelenses contra palestinos 60 pra 1, e ‘carnificina’ foi usado para descrever o assassinato de israelenses contra palestinos por 125 pra 2. ‘Horrível’ foi usado para descrever o assassinato de israelenses contra palestinos 36 pra 4.” De fato, o The Intercept descobriu que, à medida que o número de mortos palestinos aumentava, as menções a palestinos diminuíam.
Uma parte particularmente importante do contexto histórico que a grande mídia sem surpresa omite de suas reportagens, com isso apenas escapando em raríssimas exceções, é como o governo israelense sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vinha efetivamente utilizando o Hamas como um aliado estratégico para impedir qualquer movimento em direção às negociações de paz com os palestinos.
Na verdade, o Hamas era essencialmente alimentado por Israel desde sua fundação no final da década de 1980, quando o governo israelense utilizou o grupo como contraforça à Organização para a Libertação da Palestina (OLP) de Yasser Arafat, que havia se juntado perigosamente ao consenso internacional em favor da solução de dois Estados para o conflito.
Uma ameaça crescente de ataques terroristas contra civis israelenses sempre foi um preço que os líderes israelenses estavam dispostos a pagar para combater a ameaça da paz, que representa um obstáculo aos objetivos territoriais do regime sionista. Na verdade, Israel dependeu da ameaça do terrorismo para justificar a persistência do seu regime de ocupação e a brutal opressão dos palestinianos.
A fundação do Hamas
Em 1973, uma organização de caridade islâmica chamada Mujama al-Islamiya foi estabelecida na Faixa de Gaza pelo xeque Ahmed Yassin, cuja família havia fugido para Gaza quando as forças armadas sionistas limparam etnicamente sua aldeia durante o que é comumente conhecido como a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Essa é a guerra que resultou no estabelecimento do Estado de Israel em 78% do território anteriormente conhecido como Palestina.
A aldeia onde Yassin nasceu, al-Jura, foi uma das mais de quinhentas aldeias árabes que os sionistas literalmente varreram do mapa em prol de seu objetivo de reconstituir a Palestina em um “Estado judeu” demograficamente. Embora a guerra de 1948 seja conhecida pelos israelenses como a “Guerra pela Independência”, a limpeza étnica pela qual Israel surgiu é conhecida pelos palestinos como Al Nakba, ou “A Catástrofe”.
A história que nos é contada rotineiramente pela grande mídia ocidental é que os árabes foram os agressores por terem começado a guerra invadindo o recém-criado Estado de Israel. Apoiando essa narrativa está o mito popular de que Israel foi estabelecido pelas Nações Unidas através de um processo político legítimo que os árabes rejeitaram por nenhuma outra razão além de que odiavam judeus.
Mas tudo isso é mentira. A verdade é que a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU não dividiu a Palestina nem conferiu qualquer autoridade legal à liderança sionista por sua declaração unilateral da existência de Israel em 14 de maio de 1948, quando mais de um quarto de milhão de árabes já haviam sido etnicamente limpos de suas casas.
Os países árabes vizinhos intervieram para tentar impedir a limpeza étnica, mas falharam. Quando terminou e as linhas do armistício foram traçadas, em 1949, cerca de 750.000 árabes haviam se tornado refugiados cujo direito de retornar às suas casas foi negado pelo regime sionista.
Tendo sofrido uma grave lesão na coluna vertebral aos doze anos de idade, Ahmed Yassin foi tetraplégico e cadeirante durante a maior parte de sua vida. Em 1959, ele foi para o Egito e passou um ano estudando na universidade, mas ele não tinha fundos para continuar sua carreira acadêmica e voltou para Gaza. A experiência o deixou profundamente influenciado pela organização egípcia conhecida como Irmandade Muçulmana, e mais tarde ele se envolveu na criação de um ramo palestino do grupo em Gaza.
Em 1978, o Mujama al-Islamiya, ou o “Centro Islâmico”, foi legalmente registrado como uma instituição de caridade em Israel. O grupo construiu escolas, mesquitas e clubes na Gaza ocupada. “Crucialmente”, o The Wall Street Journal relatou em 2009, “Israel muitas vezes ficou de lado quando os islamistas e seus rivais palestinos seculares de esquerda lutaram, às vezes violentamente, por influência em Gaza e na Cisjordânia”.
A liderança internacionalmente reconhecida dos territórios palestinos ocupados na época era a secular Organização para a Libertação da Palestina (OLP), liderada por Yasser Arafat, um dos principais fundadores e líder do partido político Fatah.
Em 1984, o Fatah avisou aos militares israelenses que Yassin estava armazenando armas, e ele foi capturado e preso. De acordo com David Hacham, então especialista em assuntos árabes do exército israelense, Yassin disse aos interrogadores israelenses que as armas eram para uso contra seus rivais palestinos, não contra Israel. No ano seguinte, Israel libertou Yassin como parte de um acordo de troca de prisioneiros.
Em dezembro de 1987, começou um levante em massa do povo palestino contra a ocupação militar de Israel, que ficou conhecida como a primeira ” intifada “, uma palavra árabe que significa “livrar-se”.
Em agosto de 1988, uma nova organização fundada pelo xeque Ahmed Yassin publicou seu estatuto. O grupo atendia pelo nome de “Hamas”, sigla para Harakat al-Muqawama al-Islamiya, ou Movimento de Resistência Islâmica.
Apoio inicial de Israel ao Hamas
Na época, o jornal The New York Times relatou como o Hamas rapidamente se tornou “uma grande força na Faixa de Gaza”, causando “a primeira divisão séria da revolta palestina de nove meses”. O Hamas era crítico da OLP, explicou o Times, e representava uma ameaça à sua liderança secular. O governo israelense “não tomou nenhuma ação direta contra o Hamas”, o que levou a uma crença entre muitos palestinos de que o Hamas estava “sendo tolerado pelas forças de segurança israelenses na esperança de dividir o levante”. Essa era uma tática, observou o Times, que Israel já havia usado antes.
Israel via a OLP como uma ameaça por causa de seu movimento de afastamento do conflito armado em direção ao engajamento diplomático com o objetivo de estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel em apenas 22% da pátria histórica dos palestinos.
Demonstrando essa mudança de política, em 1976, a OLP apoiou um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU reconhecendo o direito igual dos palestinos à autodeterminação e pedindo um acordo de dois Estados. Isto foi vetado pelos Estados Unidos. Em novembro de 1988, a OLP proclamou oficialmente sua aceitação do que é conhecido como a solução de dois Estados, um Estado independente da Palestina composto pela Cisjordânia e Gaza ao lado do Estado de Israel. Em dezembro, Arafat declarou novamente a aceitação da solução de dois Estados pela OLP perante a Assembleia Geral das Nações Unidas.
A “ofensiva de paz palestina“, como foi chamada em 1982 pelo analista estratégico israelense Avner Yaniv, foi problemática para Israel desde que o governo israelense rejeitou a solução de dois Estados, que tem como premissa a aplicabilidade do direito internacional ao conflito. Assim, a solução de dois Estados requer a implementação da Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que pediu a Israel após a “Guerra dos Seis Dias” de junho de 1967 que retirasse totalmente suas forças dos territórios palestinos ocupados de Gaza e da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental.
Israel não tinha intenção de retirar suas forças para o seu lado das linhas do armistício de 1949, que também são chamadas de “linhas de 1967” ou “Linha Verde” pela cor com que foi desenhada no mapa. O governo não tinha intenção de desistir do sonho sionista de estabelecer Eretz Yisrael, a Terra de Israel, em todo o antigo território da Palestina – mas sem os palestinos.
Consequentemente, na época, a estratégia adotada pelos formuladores de políticas israelenses foi tentar desarmar a ameaça de paz representada pela OLP, minando sua liderança. Como Yaniv havia elaborado sobre a “ofensiva de paz”, uma OLP moderada “poderia se tornar muito mais perigosa do que a violenta OLP dos anos anteriores”. Por isso era necessário “minar a posição dos moderados”. Israel visava, portanto, “destruir a OLP como uma força política capaz de reivindicar um Estado palestino”.
Para esse fim, durante a Primeira Intifada, o Hamas foi visto como uma ferramenta útil para o regime sionista.
Essa estratégia israelense foi iluminada por Richard Sale, do serviço de notícias United Press International (UPI), em um artigo publicado em 2001. Anthony Cordesman, analista de políticas para o Oriente Médio do Centro de Estudos Estratégicos, disse à UPI que Israel “ajudou diretamente o Hamas – os israelenses queriam usá-lo como contrapeso à OLP”.
Um ex-alto funcionário da CIA também disse à UPI que o apoio de Israel ao Hamas “foi uma tentativa direta de dividir e diluir o apoio a uma OLP forte e secular usando uma alternativa religiosa concorrente”.
Uma fonte anônima da inteligência dos EUA também disse à UPI que Israel estava financiando o Hamas como um “contrapeso” à OLP e para permitir que a inteligência israelense identificasse os “linha-dura mais perigosos” dentro do movimento.
Escalada da ameaça do terrorismo
A consequência previsível da política de Israel de bloquear a implementação da solução de dois Estados, minando a OLP, foi um aumento da ameaça de terrorismo, mas esse era um risco aceitável no cálculo dos formuladores de políticas israelenses.
Como disse o ex-funcionário de contraterrorismo do Departamento de Estado Larry Johnson, “os israelenses são seus piores inimigos quando se trata de combater o terrorismo… Eles fazem mais para incitar e sustentar o terrorismo do que para contê-lo.”
Essa realidade foi revelada mais recentemente por David Shipler, chefe do escritório do The New York Times em Jerusalém de 1979 a 1984, que escreveu uma carta ao editor publicada em 17 de maio de 2021, afirmando que,
“Em 1981, o brigadeiro-general Yitzhak Segev, governador militar de Gaza, me disse que estava dando dinheiro à Irmandade Muçulmana, precursora do Hamas, por instrução das autoridades israelenses. O financiamento destinava-se a afastar o poder dos movimentos nacionalistas comunistas e palestinos em Gaza, que Israel considerava mais ameaçadores do que os fundamentalistas.”
O Departamento de Estado dos EUA, em um telegrama da embaixada dos EUA em Tel Aviv ao secretário de Estado datado de 29 de setembro de 1989, reconheceu que, apesar de ter proibido o Hamas e prendido o xeque Yassin sob “detenção administrativa” sem acusação ou julgamento, “alguns funcionários de Israel indicaram que o Hamas serviu como um contraponto útil às organizações seculares leais à OLP”. Consequentemente, observou o Departamento de Estado, “as forças israelenses podem estar fechando os olhos para as atividades do Hamas”.
Como escrevi no primeiro capítulo do meu livro Obstáculo à Paz: O Papel dos EUA no Conflito Israelo-Palestino,
“Que a ameaça real a Israel tem sido a da paz alcançada através da implementação da solução de dois Estados é bem evidenciado por suas políticas e suas consequências previsíveis. Esta é muitas vezes a única explicação racional para as ações de Israel. Sua contínua ocupação, opressão e violência contra os palestinos serviram para aumentar a ameaça de terrorismo contra civis israelenses, mas esse é um preço que os líderes israelenses estão dispostos a pagar. De fato, a ameaça do terrorismo muitas vezes serviu como um pretexto necessário para outros objetivos que não seriam politicamente viáveis sem tal ameaça.”
Isso foi reconhecido dentro do próprio governo israelense. Em outubro de 2003, por exemplo, Moshe Ya’alon, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), criticou as políticas do primeiro-ministro Ariel Sharon porque elas serviam para aumentar o ódio a Israel e fortalecer as organizações terroristas.
No mês seguinte, quatro ex-chefes do serviço de segurança interna de Israel, o Shin Bet, também criticaram que Israel estava indo na direção de uma “catástrofe” e se destruiria se continuasse a tomar medidas “contrárias à aspiração de paz”, como a contínua opressão dos palestinos sob ocupação israelense. “Devemos admitir que há outro lado”, disse Avraham Shalom, diretor do Shin Bet de 1980 a 1986, “que tem sentimentos e que está sofrendo, e que estamos nos comportando de forma vergonhosa”.
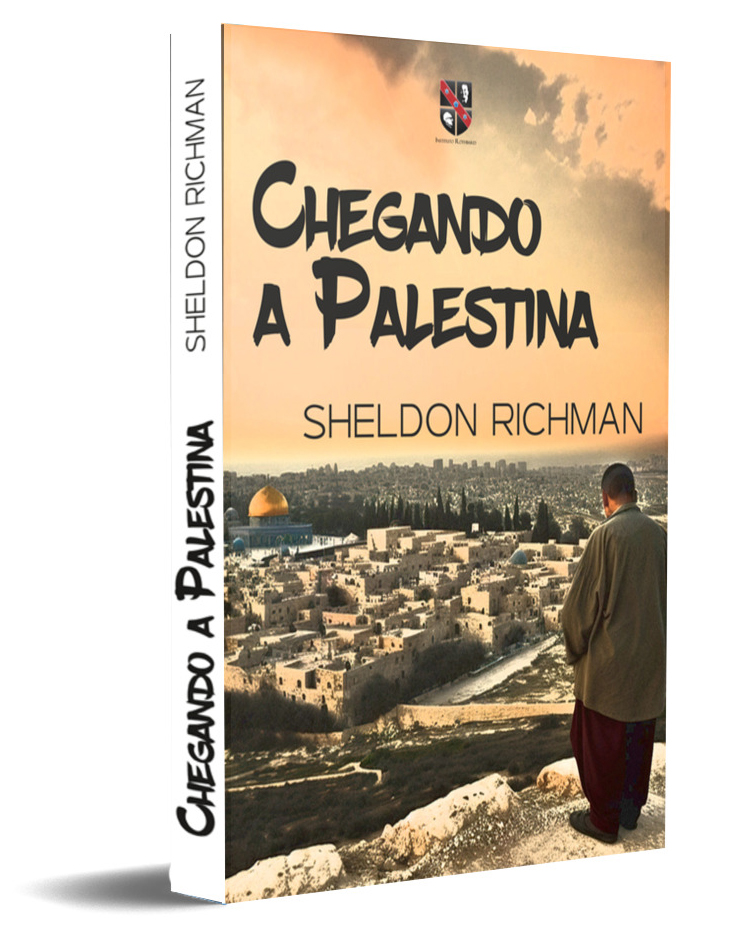 Conclusão
Conclusão
Quando o Hamas foi fundado na década de 1980, o governo israelense o viu como uma força útil para avançar em seu objetivo político de minar a OLP, que era vista como uma ameaça por causa de sua aceitação da solução de dois Estados. Israel, portanto, efetivamente tratou o Hamas como um aliado estratégico para dividir a liderança palestina.
Até os ataques liderados pelo Hamas em Israel em outubro de 2023, Benjamin Netanyahu, que foi primeiro-ministro israelense pela primeira vez no final dos anos 1990 e está novamente no poder desde 2009, manteve a política do governo israelense de utilizar o Hamas como aliado estratégico para bloquear qualquer negociação de paz com os palestinos, porque Israel sempre rejeitou a solução de dois Estados.
A ameaça do terrorismo era preferível, no cálculo de Netanyahu, à ameaça da paz e, embora a grande mídia nunca a tenha colocado nesse contexto adequado, é importante reconhecer que a “Operação Al Aqsa Flood” do Hamas, em 7 de outubro de 2023, foi um retrocesso para essa política do governo israelense.
Artigo original aqui




