 O súbito colapso do comunismo na Europa Oriental surpreendeu e enalteceu o Ocidente. Mas o que isso significa? Se o comunismo perdeu, o que ganhou?
O súbito colapso do comunismo na Europa Oriental surpreendeu e enalteceu o Ocidente. Mas o que isso significa? Se o comunismo perdeu, o que ganhou?
A resposta usual é “democracia”. E isso é considerado não apenas óbvio e inequívoco, mas inquestionavelmente bom.
É verdade que eleições livres estão finalmente sendo realizadas no que costumavam ser oligarquias tirânicas de partido único. Até aí tudo bem. Mas temos o direito de duvidar que este seja o fim da questão, muito menos “o fim da história”.
A mera posse da democracia não garante a liberdade em todos os aspectos, porque a democracia é apenas uma forma de liberdade, cujo exercício pode funcionar em detrimento de outras formas. Isso é reconhecido por aqueles que temem que o fim do comunismo possa significar a retomada de outros males do passado, há muito suprimidos: o nacionalismo violento, o esmagamento de minorias etc.
A maioria de nós defende a democracia da boca para fora, mas nem todos concordamos por que ela é boa. Apenas concordamos que ela deve ser preferível a certas coisas em nossa memória histórica: regimes opressivos que só poderiam ser derrubados com dificuldade e perigo.
Essa, eu afirmo, é a verdadeira virtude da democracia: ela institucionaliza a derrubada pacífica dos governantes. É um princípio de sucessão e, como tal, se opõe à sucessão hereditária, à nomeação dentro de uma oligarquia fechada ou à violência.
De fato, houve dissidentes ponderados. Samuel Johnson preferia a hereditariedade, alegando que ela trazia estabilidade. Sendo em certo sentido “acidental”, ela despertou, pensou ele, menos inveja e rivalidade do que qualquer tentativa de estabelecer regras de acordo com o mérito. Johnson detestava a agitação política e, por isso, desconfiava das eleições populares. Quando Boswell sugeriu que a eleição de prefeitos de Londres poderia ser melhor do que o costume casual de rotação por antiguidade, Johnson retrucou que “a escolha de uma ralé” não era melhor do que o acaso. Não precisamos aceitar totalmente sua crença — as tendências conservadoras de Johnson são notórias —, mas devemos dar algum peso às suas reservas. Mesmo as coisas boas têm seus inconvenientes.
Em um ponto Johnson estava eminentemente certo. “O objetivo da liberdade política”, disse ele, “é a liberdade privada”. Ele insistiu que as liberdades agora associadas à democracia, como a liberdade de imprensa, deveriam ser julgadas de acordo com sua tendência a promover a liberdade privada. Sua insistência nesse princípio o diferencia daqueles que identificam certas liberdades específicas com a própria liberdade.
Boa parte da opinião progressista moderna equipara a liberdade mais com as urnas e a liberdade de expressão, digamos, do que com a segurança da propriedade privada que foi o grande critério para pensadores tão diversos do século XVIII como Johnson, Burke, Jefferson e Madison. O progressismo moderno, de fato, considera um avanço para a liberdade se a riqueza for “democratizada” ao ser reivindicada para “o setor público”. E a democracia moderna tornou-se cada vez mais uma competição pública pelo que antes era dinheiro privado.
Os Pais Fundadores teriam ficado horrorizados com a mudança. O próprio Madison escreveu em The Federalist que o “objetivo principal” do governo é “proteger as faculdades separadas e desiguais de adquirir propriedade”. O objetivo nominal, pelo menos, do governo democrático moderno é igualar a posse de riqueza. Isso, como já deveríamos ter aprendido, não pode ser feito. Mas mesmo a tentativa de fazê-lo torna toda a riqueza insegura, sujeitando-a ao poder político.
A democracia em nosso tempo foi infectada com uma versão de ideologia socialista ou “progressista” que está profundamente em desacordo com o ideal tradicional de um estado de direito impessoal. De acordo com seu idioma quase inquestionável, o papel do Estado não é meramente fornecer um conjunto de regras para criar condições pacíficas e estáveis de relacionamento social; é buscar a “justiça social”, remediar “iniquidades históricas”, “erradicar o preconceito” e coisas do gênero.
O estado de direito tradicional não pretende fazer grandes julgamentos morais e históricos. Sua província não é mérito ou merecimento, muito menos culpa coletiva, mas simplesmente direito legal. Ele decide qual motorista tinha o direito de passagem, não qual estava em uma missão mais urgente ou tinha o destino mais digno; qual reclamante possuía a escritura, não qual era mais admirável ou patética. É virtude da lei, não seu defeito, que ela seja imune à flutuação da paixão ou simpatia e desinteressada pelas qualidades pessoais dos litigantes.
Abandonar essa impessoalidade é colocar o Estado em controvérsias que ele é incompetente para decidir e exigir que ele intervenha em mil áreas da vida anteriormente privada. A tentativa de criar “justiça racial” além de meramente tratar a raça como uma categoria irrelevante para fins legais, leva a uma “compensação” indiscriminada para grandes categorias de pessoas, que talvez não sofram pessoalmente com a suposta injustiça, em detrimento de outras grandes categorias de pessoas, a maioria das quais não cometeu nenhuma injustiça.
A culpa não é provada, mas grosseiramente presumida, e uma pena é imposta sem julgamento. O que seria intolerável se feito ao indivíduo é de alguma forma justificado se feito à massa. E ao classificar categorias inteiras de cidadãos como vítimas credenciadas, o Estado dá veredictos históricos grosseiros que nenhum historiador sério daria.
Erros “históricos” não podem ser expiados. Apenas erros legais específicos podem ser reparados. O próprio governo federal, a meu ver, internava ilegalmente milhares de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, o governo deve uma compensação, não a todos os nipo-americanos, mas às pessoas cujos direitos individuais foram violados, incluindo qualquer um que fosse, digamos, chinês ou coreano.
Nem todas as categorias oficiais de vítimas são étnicas. O Estado agora tenta remediar os supostos “erros” ou atender as supostas “necessidades” dos pobres, dos deficientes, dos idosos, dos homossexuais e de outras categorias. Politicamente, há um padrão simples: poder. Você tem que ter muita influência para ser uma vítima. E em uma democracia moderna, “direitos” tornam-se privilégios cujo efeito real é diminuir, não ampliar, a liberdade pessoal.
Eleitorados poderosos e em busca de poder iluminam um problema básico da democracia moderna. É um princípio do estado de direito que nenhum homem deve ser juiz em sua própria causa. No entanto, a democracia convida todos os cidadãos a fazer valer seus próprios interesses. Enquanto as pessoas simplesmente usarem o direito de voto para defender seus interesses contra a invasão do Estado, a democracia funcionará como deveria. Mas e se eles usarem o poder político com o propósito de incitar o Estado a invadir os interesses dos outros?
Isso é o que Madison chamou de problema de “facção”. Mas o que Madison via como um problema, políticos menos escrupulosos viam como oportunidade. Enquanto ele esperava que facções, ou interesses especiais, se cancelassem, políticos mais recentes, especialmente desde o New Deal, têm procurado superar os freios e contrapesos do federalismo e consolidar o poder construindo coalizões de facções em uma espécie de governo de uma super-facção.
O uso de suborno, corrupção e espólios políticos é tão antigo quanto a política. Todos os políticos percebem que a maneira mais segura de acumular poder é tornar o maior número possível de pessoas dependentes deles para empregos e favores. A maneira tradicional tem sido conceder cargos a aliados políticos. Mas o número de empregos no governo é sempre limitado.
Foi a genialidade de Franklin Roosevelt ver que milhões de eleitores poderiam, de fato, ser comprados com a promessa de renda do governo federal – o que significava, em última análise, de impostos cobrados sobre a renda de outros cidadãos. Ele se gabou em particular de que “nenhum maldito político” jamais seria capaz de revogar “meu sistema de Previdência Social”. Esse sistema era fraudulento — o tipo de esquema pelo qual os empresários vão para a prisão —, mas foi um tremendo sucesso politicamente.
Programas federais mais recentes fizeram com que dezenas de milhões de americanos recebessem dinheiro federal. O dinheiro é cobrado por uma agência que opera fora das restrições da Constituição e do estado de direito. Os beneficiários do sistema são zelosos de seus benefícios; as vítimas — as pessoas que pagam por isso — estão muito intimidadas e desmoralizadas e têm pouco incentivo para resistir. Elas enfrentam sua inquisição fiscal anual com resignação amarga e silenciosa. Em relação ao governo federal, o cidadão americano hoje é dependente ou réu.
O novo sistema, uma revogação virtual do plano constitucional original, destruiu a privacidade econômica. Ao mesmo tempo, a votação passou a ser considerada um ato puramente privado. Há algo torto neste arranjo. O eleitor é uma espécie de funcionário público. Ele deveria pelo menos ser considerado moralmente responsável perante seus concidadãos no uso de seu direito de voto. Se ele votar para enriquecer às custas deles, ele não é melhor do que um político que aceita suborno.
Na verdade, o tipo de política de grupos de interesse que prevalece nos Estados Unidos hoje equivale a um sistema em massa de suborno. Antigamente, um cidadão ocasional subornava um político ocasional e, se fosse pego, era punido. Hoje em dia, quase todos os políticos subornam o maior número possível de eleitores e são eleitos. Nossos especialistas e até mesmo nossos livros cívicos celebram esse processo como o cumprimento do plano dos fundadores, quando na verdade é a derrota desse plano.
Ultimamente, a opinião progressista tem sido exercida sobre a “ganância” supostamente desencadeada durante os anos Reagan, significando as transações de alguns operadores rápidos em Wall Street (muitos dos quais não prejudicaram ninguém). Mas a forma de ganância mais difundida nos Estados Unidos hoje é a ganância que busca ganhar o dinheiro de outras pessoas elegendo políticos que o tomarão em seu nome. Essa forma de ganância, no entanto, agora é chamada de “necessidade”. A palavra “ganância” é reservada para aqueles que protegeriam seus próprios ganhos do estado e de seus clientes.
O triunfo de Roosevelt e seus sucessores consistiu em envolver enormes massas de eleitores em um gigantesco conflito de interesses. Como cidadãos, temos a obrigação moral de votar com estrita consideração pelo bem público. Como potenciais destinatários de dinheiro federal, no entanto, somos convidados a instar o estado a roubar nossos concidadãos em nosso nome
A política democrática tornou-se em grande parte a manipulação de blocos eleitorais; e como Benjamin Ginsberg explicou brilhantemente em seu livro The Captive Public, o governo federal continua gerando novos eleitorados para si mesmo, novos blocos exigindo novos benefícios. O eleitor individual de mentalidade cívica se perde na gigantesca confusão entre os grupos que realmente contam, as forças poderosas que disputam o status de vítima.
A palavra “minoria” tem um halo de pathos. Mas na política moderna, uma “minoria” é sempre um bloco a ser considerado. Ele traduziu seu pathos em poder e supera o indivíduo não afiliado cuja renda pessoal está em jogo.
George Will elogiou Roosevelt por introduzir em nossa política nacional uma “ética de provisão comum”. Mas esta seria uma descrição plausível apenas se aqueles que recebiam benefícios fossem impedidos de votar – uma estipulação que agora seria denunciada como cruel, desumana e (é claro) antidemocrática, embora John Stuart Mill, entre outros, considerasse axiomaticamente necessário preservar o estado de bem-estar da corrupção. Sem tal estipulação, o que provavelmente teremos é menos uma “ética de provisão comum” do que uma política de rapacidade.
A democracia é moralmente legítima apenas enquanto os cidadãos estão delegando aos funcionários do Estado os poderes que por direito pertencem ao autogoverno. Mas a democracia não pode conceder a um Estado poder ao qual nenhum governo tem direito. A democracia é impotente para santificar o roubo e o suborno.
Nos julgamentos de Nuremberg, o mundo civilizado ficou horrorizado ao saber como o estado de direito ostensivo poderia ser pervertido em assassinato em massa por delegação burocrática. Claro que estou falando de algo infinitamente menos sério. Mas é sério o suficiente para notar, e o princípio é o mesmo. Um enorme aparato estatal está cometendo rotineiramente, em nosso nome, atos que seriam imediatamente reconhecidos como criminosos se os realizássemos pessoalmente.
A arrogância do Estado moderno — democrático, comunista, fascista — reside em sua pretensão de alterar até mesmo os princípios morais que costumam guiar os seres humanos em suas relações uns com os outros. Além de errado, este é um empreendimento fútil e perigoso. Destrói a boa-fé e a confiança social de que depende qualquer sociedade, com qualquer forma de governo.
Os socialistas sempre falaram esperançosamente em “construir uma nova sociedade”; os comunistas até afirmaram ter criado um “novo homem soviético”. Mas o que Gorbachev aprendeu dolorosamente é que a verdadeira tarefa de um governante é construir uma velha sociedade, não mudando todas as regras e abolindo entendimentos tradicionais, mas preservando os componentes essenciais da concórdia. Construir uma sociedade é um trabalho lento, como estabelecer uma classificação de crédito. A única garantia que temos de que uma coisa vai durar é que ela já durou.
A euforia do momento não deve nos fazer supor que o comunismo e a democracia moderna são polos opostos entre os quais estão todas as possibilidades de governo. Em menor grau, o Estado democrático de nosso tempo também invade e constrange a área da vida privada. Ao contrário do estado comunista, ele o faz a mando de poderosas massas de eleitores que não podem ser derrubadas e dificilmente podem ser contidas. Devemos ser gratos por seu governo ser muito menos oneroso que o comunismo. Mas isso não significa que seu governo seja algum tipo de ideal.
Mesmo sob a democracia, o homem moderno tem a desagradável sensação de que o Estado está se aproximando dele. “Não há mais nada que possamos dizer a eles: ‘Cuide da sua vida'”, lamentou CS Lewis. “Nossas vidas inteiras são da conta deles.” Os políticos são vistos, e se veem, não apenas como “governantes”, observou Lewis, mas como “líderes” – uma mudança na terminologia que ele considerava profundamente significativa, implicando que o propósito do Estado não é estabilizar, mas mudar.
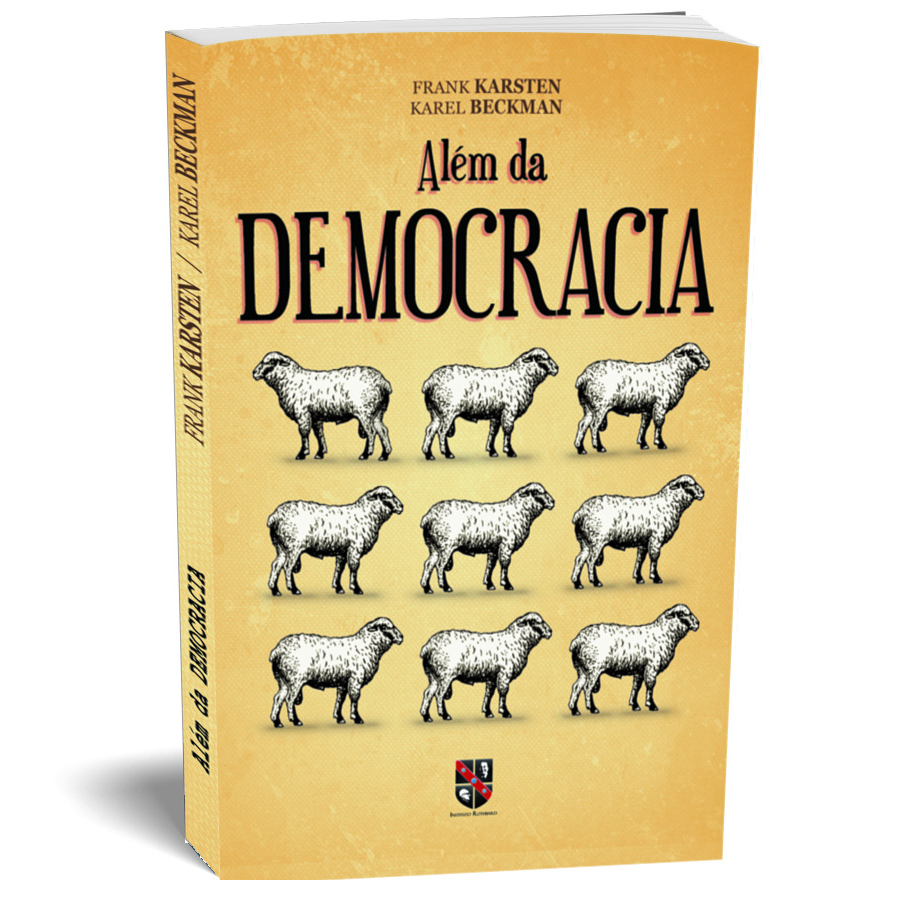 Mesmo nossas vidas interiores não estão imunes, pois as escolas públicas se engajam na “conscientização” — monitorando e supostamente corrigindo as atitudes das crianças sobre questões “sociais”; para a opinião progressista, as Atitudes Politicamente Corretas parecem tão evidentes que não há razão para não inculcá-las em todas as crianças.
Mesmo nossas vidas interiores não estão imunes, pois as escolas públicas se engajam na “conscientização” — monitorando e supostamente corrigindo as atitudes das crianças sobre questões “sociais”; para a opinião progressista, as Atitudes Politicamente Corretas parecem tão evidentes que não há razão para não inculcá-las em todas as crianças.
Lewis era sensível aos perigos representados pela ampliação do setor público: “Acredito que um homem é mais feliz, e feliz de uma maneira mais rica, se tiver ‘a mente nascida livre’. Mas duvido que ele possa ter isso sem a independência econômica, que a nova sociedade está abolindo, pois a independência econômica permite uma educação não controlada pelo governo; e na vida adulta é o homem que não precisa e não pede nada ao governo que pode criticar seus atos e estalar os dedos contra sua ideologia. Leia Montaigne; essa é a voz de um homem com as pernas debaixo da própria mesa, comendo o carneiro e os nabos criados em sua própria terra. Quem vai falar assim quando o Estado é de todos mestre-escola e patrão?”
Uma boa pergunta. A democracia moderna ainda não a respondeu.
Artigo original aqui




Resumo: A democracia não funcionou, não funciona nem nunca funcionará.
Eu pessoalmente vejo a democracia como a ditadura da maioria, maioria esta composta por imbecis de altíssima preferência temporal.
Em 1804, Schiller escreveu com suas últimas forças uma grande obra e trouxe ao mundo um verso, um verso imortal sobre as decisões parlamentares e democráticas:
“O que é Maioria? Maioria é a falta de sentido,
Razoabilidade foi encontrada sempre em poucos…
Deve-se pesar os votos e não contá-los;
O Estado deve sucumbir, cedo ou tarde,
onde a Maioria vence e a ignorância decide.”
Uma conclusão irrefutável. Grato.
Sobre a Democracia (Livro de Urântia)
——————————
A democracia, como um ideal, é um produto da civilização, não da evolução. Ide devagar! Escolhei com cuidado! Pois os perigos da democracia são:
A glorificação da mediocridade.
A escolha de governantes vis e ignorantes.
O fracasso em reconhecer os fatos fundamentais da evolução social.
O perigo do sufrágio universal nas mãos de maiorias pouco instruídas e indolentes.
A escravidão à opinião pública; a maioria nem sempre está certa.
Reflexão lúcida, factual, pragmática . Bravo !