O termo “utilidade pública” … é em si absurdo. Todo bem é útil “para o público”, e praticamente qualquer bem … pode ser considerado “necessário”. Qualquer designação de algumas poucas indústrias como sendo “utilidade pública” é completamente arbitrária e injustificada. — Murray Rothbard, Power and Market
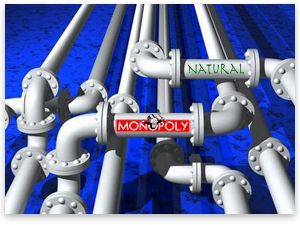 A maioria dos setores considerados de ‘utilidade pública’ usufrui o privilégio de receber concessões e garantias monopolísticas do governo, pois são considerados “monopólios naturais”. Falando mais simplesmente, diz-se que um monopólio natural ocorre quando os investimentos necessários para a produção deste serviço apresentam custos altos e relativamente fixos, fazendo com que os custos totais de longo prazo caiam à medida que a produção aumenta. Em tais indústrias, afirma a teoria, um único produtor será capaz de produzir a um custo menor do que se houvesse dois produtores no mercado, situação esta que cria um monopólio “natural”. Caso mais de um produtor passe a ofertar seus serviços no mercado, os preços serão mais altos.
A maioria dos setores considerados de ‘utilidade pública’ usufrui o privilégio de receber concessões e garantias monopolísticas do governo, pois são considerados “monopólios naturais”. Falando mais simplesmente, diz-se que um monopólio natural ocorre quando os investimentos necessários para a produção deste serviço apresentam custos altos e relativamente fixos, fazendo com que os custos totais de longo prazo caiam à medida que a produção aumenta. Em tais indústrias, afirma a teoria, um único produtor será capaz de produzir a um custo menor do que se houvesse dois produtores no mercado, situação esta que cria um monopólio “natural”. Caso mais de um produtor passe a ofertar seus serviços no mercado, os preços serão mais altos.
Ademais, afirma-se que a concorrência em tais setores causaria inconveniências para os consumidores por causa da necessidade de duplicação de instalações — por exemplo, a escavação de ruas para a instalação de dois ou mais encanamentos de água ou gás. Evitar tais inconveniências é outra desculpa fornecida pelo governo para conceder o monopólio destes setores para empresas específicas.
Trata-se de um mito dizer que a teoria do monopólio natural foi primeiro desenvolvida por economistas para, só então, ser utilizada por legisladores para “justificar” a concessão de monopólios. A verdade é que os monopólios foram criados décadas antes de a teoria ser formalizada por economistas de mentalidade intervencionista, que então utilizaram a teoria como uma justificativa ex post para a intervenção estatal. Na época, quando as primeiras concessões monopolísticas estavam sendo feitas pelo estado, a grande maioria dos economistas entendia que uma produção em larga escala e intensiva em capital não levava a monopólios; ao contrário, representava um aspecto desejável do processo concorrencial.
A palavra “processo” é importante aqui. Se a concorrência é vista como um processo empreendedorial dinâmico e competitivo, então o fato de que um único produtor consegue incorrer nos menores custos em qualquer ponto do tempo é algo de pouca ou nenhuma consequência. As duradouras e permanentes forças da concorrência — incluindo a concorrência potencial, aquela que ainda não se estabeleceu, mas que possui liberdade de entrada no mercado — irão fazer com que um monopólio no livre mercado seja uma impossibilidade.
A teoria do monopólio natural também não possui história. Não há nenhuma evidência da teoria do “monopólio natural” ocorrendo na prática — de um produtor alcançar custos totais de longo prazo menores do que o de todos os seus concorrentes e, com isso, estabelecer um monopólio permanente. Como será discutido abaixo, em várias das chamadas indústrias de utilidade pública do final do século XVIII e início do século XIX, havia literalmente dúzias de concorrentes.
Economias de escala durante a era das concessões monopolísticas
Durante o final do século XIX, nos EUA, quando os governos locais estavam começando a conceder monopólios para as empresas do setor de utilidade pública, o entendimento econômico geral era o de que “monopólios” eram criados pela intervenção do governo — e não pelo livre mercado — por meio de concessões, protecionismo e outras políticas. Produções vultosas e economias de escala eram vistas como virtudes competitivas, e não como vícios monopolísticos.
Por exemplo, Richard T. Ely, co-fundador da American Economic Association, escreveu que “uma produção em larga escala é algo que de maneira alguma significa necessariamente uma produção monopolizada.”[1] John Bates Clark, também co-fundador, escreveu em 1888 que a ideia de que combinações industriais iriam “destruir a concorrência” não deveria ser “aceita muito precipitadamente”.[2]
Herbert Davenport, da Universidade de Chicago, alertou em 1919 que a existência de apenas algumas empresas em um setor em que há economias de escala não é algo que “requer a eliminação da concorrência”,[3] e seu colega James Laughlin observou que, mesmo quando “uma combinação entre indústrias é ampla, uma combinação rival pode gerar uma enérgica concorrência”.[4] Irving Fischer[5] e Edwin R.A. Seligman[6] concordaram que produções em larga escala geravam benefícios competitivos por meio da redução de custos com publicidade, processos de venda e remessas.
De acordo com economistas da virada do século XIX para o XX, unidades que produziam em larga escala beneficiavam de maneira inequívoca os consumidores. De acordo com Seligman, sem uma produção em larga escala, “o mundo iria retornar a um estado de bem-estar mais primitivo, e iria virtualmente renunciar aos inestimáveis benefícios da melhor maneira de se utilizar capital”.[7] Simon Patten, da Wharton School, expressou visões similares ao dizer que “a combinação de capital não gera nenhuma desvantagem econômica para a comunidade. … Combinações são muito mais eficientes do que eram os produtores individuais que elas desalojaram do mercado.”[8]
Como praticamente qualquer outro economista da época, Franklin Giddings, da Universidade de Columbia, entendia a concorrência de maneira muito semelhante a como os economistas austríacos a veem hoje: como um processo dinâmico e competitivo. Consequentemente, ele observou que
A concorrência, de uma forma ou de outra, é processo econômico permanente. … Portanto, quando a concorrência de mercado parece ter sido suprimida, devemos investigar o que ocorreu com as forças que geraram essa concorrência. Adicionalmente, devemos também investigar até que ponto a concorrência de mercado realmente foi suprimida ou se ela foi convertida em outros formatos.[9]
Em outras palavras, uma empresa “dominante” que estabelece um preço menor que o de suas rivais, em qualquer ponto do tempo, não suprimiu a concorrência, pois a concorrência é “um permanente processo econômico.”
David A. Wells, uma dos mais populares escritores econômicos do final do século XIX, escreveu que “o mundo demanda uma abundância de mercadorias, e as demanda a preços baixos; e a experiência nos mostra que ele só irá conseguir o que quer por meio do emprego de um grande volume de capital, utilizado em escala extensiva”.[10] E George Gunton acreditava que
A concentração de capital não expulsa pequenos capitalistas do mercado, mas simplesmente os integra a sistemas de produção maiores e mais complexo, nos quais eles se tornam capacitados a produzir … de forma mais barata para a comunidade e a obter uma renda maior para eles próprios. … Em vez de a concentração de capital destruir a concorrência, ocorre o oposto. … Por meio do uso de um volume maior de capital, de máquinas mais aprimoradas e de melhores instalações, o truste pode e irá vender a preços menores que os de uma única empresa.[11]
Todas as citações até agora apresentadas não advêm de uma lista selecionada a dedo, mas sim de uma lista abrangente. Pode parecer estranho para os padrões atuais, mas, em finais da década de 1880, havia apenas dez homens que já haviam obtido o status de economistas profissionais em tempo integral nos EUA.[12] Assim, as citações acima cobrem praticamente todos os economistas profissionais que, na época, opinaram sobre a relação entre economias de escala e concorrência na virada do século.
A importância destas visões é que estes homens observaram em primeira mão o advento da produção em larga escala e não viram o surgimento de monopólios, “naturais” ou quaisquer outros. No espírito da Escola Austríaca, eles entenderam que a concorrência era um processo contínuo, e que uma dominância de mercado era sempre e necessariamente algo temporário caso não houvesse regulamentações governamentais criadoras de monopólios. Esta visão é também consistente com as minhas próprias pesquisas, que constataram que os “trustes” formados em fins do século XIX estavam na realidade reduzindo seus preços e expandindo a produção em um ritmo mais rápido que o restante da economia — tais trustes representavam as indústrias mais dinâmicas e competitivas da economia, e não eram monopolistas.[13] Talvez tenha sido por isso que eles eram o alvo favorito de legisladores protecionistas que queriam impor leis “antitruste”.
Os economistas só passaram a adotar a teoria do monopólio natural após a década de 1920, quando a ciência econômica se deixou enfeitiçar pelo “cientificismo” e adotou uma teoria tipicamente oriunda da engenharia, a qual categorizava as indústrias em termos de retornos de escala constantes, decrescentes e crescentes (custos totais decrescentes). De acordo com esta forma de pensar, a estrutura do mercado — e, consequentemente, a concorrência — era determinada por relações matemáticas inspiradas na engenharia. Com a exceção de economistas como Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e outros membros da Escola Austríaca, o contínuo processo de concorrência e disputa empreendedorial passou a ser solenemente ignorado.
Quão “natural” eram os primeiros monopólios naturais?
Não há absolutamente nenhuma evidência de que, no início do processo de regulamentação das indústrias de utilidade pública, houvesse qualquer tipo de fenômeno que representasse um “monopólio natural”. Como afirmou Harold Demsetz:
Existiam seis empresas de eletricidade na cidade de Nova York no ano de 1887. Quarenta e cinco empresas de eletricidade possuíam o direito legal de operar em Chicago em 1907. Antes de 1895, Duluth, Minnesota, era servida por cinco empresas de eletricidade, e Scranton, Pensilvânia, tinha quatro em 1906. … Durante as últimas décadas do século XIX, a concorrência era a norma nas indústrias de gás nos EUA. Antes de 1884, seis empresas concorrentes operavam em Nova York … a concorrência era comum e especialmente forte no setor de telefonia … Entre as principais cidades, Baltimore, Chicago, Cleveland, Columbus, Detroit, Kansas City, Minneapolis, Filadélfia, Pittsburgh e St. Louis possuíam pelo menos duas empresas telefônicas em 1905.[14]
Em um ato de extrema atenuação da verdade, Demsetz conclui que “é de se duvidar de que a indústria de utilidade pública fosse caracterizada por economias de escala na época em que a concorrência de mercado foi abolida em prol das regulamentações.”[15]
Um exemplo ainda mais instrutivo da inexistência de monopólio natural nas indústrias de utilidade pública foi fornecido pelo economista George T. Brown em seu livro de 1936 intitulado “The Gas Light Company of Baltimore”.[16] O livro apresenta a história da Empresa de Luz a Gás de Baltimore, a qual aparece proeminentemente em todos os compêndios sobre a história dos monopólios naturais. A história desta empresa é que, desde sua fundação em 1816, ela sempre batalhou contra novos concorrentes. Sua resposta típica a esta concorrência era não apenas tentar concorrer no mercado, mas também fazer lobby nos governos estadual e municipal para que eles não concedessem autorização para a operação de seus concorrentes. Embora a empresa operasse com economias de escala, isso não impedia que numerosos concorrentes surgissem constantemente.
“A concorrência é a alma da economia”, escreveu o editorial do jornal The Baltimore Sun em 1851 saudando a notícia da chegada de novos concorrentes no setor de luz a gás.[17] A Empresa de Luz a Gás de Baltimore, no entanto, “se opôs à concessão de direitos de operação para sua nova concorrente”.[18]
George Brown afirma que “as empresas de gás de outras cidades estavam expostas a uma concorrência devastadora”, e em seguida detalha como estas mesmas empresas tentaram desesperadoramente entrar no mercado de Baltimore. Porém, se a concorrência era tão “devastadora”, por que então estas empresas queriam entrar em novos mercados, presumivelmente tão “devastadores” quanto? Ou a teoria de Brown sobre “concorrência devastadora” — a qual rapidamente passou a ser amplamente aceita pela academia — estava incorreta, ou aquelas empresas eram irracionais e estavam famintas por serem punidas financeiramente.
Ao ignorar a natureza dinâmica do processo concorrencial, Brown incorreu no mesmo erro que inúmeros economistas ainda cometem: acreditar que a concorrência “excessiva” pode ser “destrutiva” caso produtores eficientes, que produzem a custos baixos, consigam desalojar seus rivais menos eficientes do mercado.[19] Tal concorrência pode ser “destrutiva” para estes concorrentes ineficientes, que produzem a custos altos, mas é benéfica para os consumidores.
Em 1880, havia três empresas de gás concorrentes em Baltimore, que concorriam intensamente entre si. Elas tentaram se fundir e formar um monopólio em 1888, porém a entrada de um novo concorrente frustrou seus planos: “Thomas Aha Edison introduziu a luz elétrica, o que ameaçou a existência das todas as empresas de gás.”[20] Daquele momento em diante, havia concorrência não apenas entre as empresas de gás e entre as empresas elétricas, como também, e principalmente, entre as empresas de gás e as empresas elétricas, todas as quais incorriam em volumosos custos fixos, o que levava a economias de escala. Não obstante, em momento algum se formou um monopólio “natural”.
Quando o primeiro monopólio finalmente apareceu, ele se deveu unicamente à intervenção governamental. Por exemplo, em 1890, um projeto de lei introduzido na legislatura de Maryland “pedia que a Consolidated [empresa de gás] fizesse um pagamento anual à cidade de $10.000 e mais 3% de todos os dividendos declarados em troca do privilégio de usufruir um monopólio de 25 anos.”[21] Esta é a hoje familiar abordagem na qual os burocratas do governo entram em conluio com executivos da indústria para estabelecerem um monopólio que irá espoliar os consumidores e cujos rendimentos serão então compartilhados com os políticos na forma de taxas de concessão e tributos sobre as receitas monopolísticas.
A “regulamentação” legislativa das empresas de gás e eletricidade gerou o previsível resultado da formação de preços monopolistas, dos quais o público reclamou amargamente. E então, em vez de desregulamentar a indústria e permitir que a livre concorrência determinasse os preços, a regulamentação dos serviços de utilidade pública foi propagandeada como uma maneira de supostamente acalmar os consumidores, os quais, de acordo com Brown, “sentiam que a maneira negligente na qual seus interesses estavam sendo servidos [pelo controle legislativo dos preços do gás e da eletricidade] resultou em altas tarifas e privilégios monopolistas. O avanço das regulamentações do setor de utilidade pública em Maryland exemplificava o que viria a acontecer em outros estados.”[22]
Nem todos os economistas se deixaram levar pela teoria do “monopólio natural” esposada pelos monopolistas da indústria de utilidades públicas e seus bem remunerados conselheiros econômicos. Em 1940, o economista Horace M. Gray, da escola de pós-graduação da Universidade de Illinois, pesquisou a história do “conceito de utilidade pública”, incluindo a teoria do monopólio “natural”. “Durante o século XIX”, observou Gray, acreditava-se francamente que “o interesse público seria mais bem promovido pela concessão de privilégios especiais para indivíduos e para empresas” em várias indústrias.[23] Isto incluía patentes, subsídios, tarifas, concessões de terras para ferrovias, e concessões monopolísticas para serviços de utilidade “pública”. “O resultado final foi monopólio, exploração e corrupção política”.[24]
Com relação às utilidades “públicas”, Gray afirma que “entre 1907 e 1938, a política dos monopólios criados e protegidos pelo estado se tornou firmemente estabelecida ao longo de uma significativa fatia da economia, passando a ser o princípio básico da moderna regulamentação do setor de utilidade pública”.[25] Daquela época em diante, “o status de utilidade pública se tornou o paraíso e o refúgio de todos os aspirantes a monopolistas que consideravam ser muito difícil, muito custoso ou muito precário adquirir e manter monopólios por meio exclusivamente da ação privada.”[26]
Para sustentar esta afirmação, Gray demonstrou como praticamente todas as empresas aspirantes a monopolista nos EUA tentaram obter o status de “utilidade pública”, incluindo-se aí as indústrias de rádio, imobiliárias, de leite, de transporte aéreo, de carvão e agrícolas, para citar apenas algumas. Aquelas indústrias que conseguiram obter o status político de “utilidade pública” também utilizaram o conceito de utilidade pública para impedir o surgimento de qualquer concorrência.
O papel dos economistas neste esquema era o de construir aquilo que Gray chamou de “uma confusa argumentação” em prol “das forças sinistras do privilégio e dos monopólios privados”, isto é, em prol da teoria do monopólio “natural”. “A proteção dos consumidores desapareceu”.[27]
Pesquisas econômicas mais recentes confirmam a análise de Gray. Em um dos primeiros estudos estatísticos dos efeitos da regulação das tarifas elétricas, publicado em 1962, George Stigler e Claire Friedland não encontraram, para o período de 1917 a 1932, diferenças significativas nos preços e nos lucros das empresas de utilidade pública operando com e sem comissões reguladoras.[28] As primeiras instituições reguladoras de tarifas, além de não terem beneficiado os consumidores, foram “capturadas” pela indústria regulada, como acontece em várias outras indústrias, desde transporte de cargas até companhias aéreas e TV a cabo. É válido notar que os economistas demoraram quase 50 anos para começar a estudar os efeitos reais — e não apenas os teóricos — da regulamentação de tarifas.
Dezesseis anos após o estudo de Stigler-Friedland, Gregg Jarrel observou que, entre 1912 e 1917, 25 estados substituíram as regulamentações municipais pela regulamentação estadual das tarifas de energia elétrica, cujos efeitos foram elevar em 46% os preços e em 38% os lucros, ao mesmo tempo em que a produção caiu 23%.[29] Ou seja, mesmo com a regulamentação municipal não tendo conseguido manter os preços baixos, as empresas de utilidade pública queriam um aumento ainda mais rápido em seus preços, de modo que elas exitosamente fizeram lobby para a implantação de regulações estaduais em vez de municipais, sob a teoria de que os reguladores estaduais seriam menos pressionados por grupos de consumidores locais, algo que ocorria frequentemente com prefeitos e vereadores.
Os resultados desta pesquisa são consistentes com a interpretação de Horace Gray de que a regulação de tarifas de utilidades públicas é um esquema anticonsumidor, monopolístico e especificador de preços.
O problema da “duplicação excessiva”
Além dos mitos sobre economias de escala, outro motivo apresentado para a concessão de monopólios aos setores de “monopólios naturais” era o de que permitir muitos concorrentes seria algo que geraria desordem. Segundo este argumento, seria muito custoso para uma comunidade permitir que várias empresas fornecedoras de água, várias produtoras de energia elétrica ou mesmo várias operadoras de TV a cabo saíssem escavando ruas para fazer suas instalações. Porém, como observou Harold Demsetz:
O problema da duplicação excessiva de sistemas de distribuição se deve à incapacidade de algumas comunidades de estipular preços adequados para o uso destes recursos escassos. O direito de utilizar ruas, passagens e vias públicas é o direito de utilizar recursos escassos. A ausência de um preço para a utilização destes recursos escassos — um preço que deve ser alto o bastante para refletir os custos de oportunidade de usos alternativos, como os serviços de um tráfego contínuo e paisagens não danificadas — irá levar à sua utilização excessiva. A estipulação de uma tarifa apropriada para o uso destes recursos escassos iria reduzir o grau de duplicação para níveis ótimos.[30]
Portanto, assim como o problema dos monopólios “naturais” é gerado pela intervenção governamental, o mesmo ocorre com o problema da “duplicação de instalações”. Ele é criado pela incapacidade dos governos de precificar corretamente os recursos urbanos escassos. Mais especificamente, o problema é na realidade causado pelo fato de que o governo é o dono das ruas sob as quais os sistemas de distribuição das empresas de utilidade pública são instalados, e a impossibilidade do cálculo econômico racional dentro de instituições socialistas as impede de precificar estes recursos apropriadamente, como ocorreria em um regime de propriedade privada guiado pela concorrência de mercado.
Contrariamente à alegação de Demsetz, a precificação econômica racional neste caso é impossível exatamente porque o governo é o dono das ruas e estradas. Mesmo políticos benevolentes e iluminados, especialmente aqueles que estudaram a obra de Harold Demsetz, simplesmente não teriam como determinar de maneira racional quais deveriam ser os preços cobrados. Murray Rothbard já explicou tudo isso:
O fato de que o governo deve dar permissão para o uso de suas ruas tem sido citado como justificativa para severas regulamentações governamentais sobre as empresas de “utilidade pública”, muitas das quais (como empresas de água e de eletricidade) têm de utilizar as ruas. As regulações, portanto, são tratadas como arranjos voluntários e mutuamente recompensadores. Porém, ao se agir assim, está-se ignorando o fato de que a propriedade governamental das ruas é, em si, um permanente ato de intervenção. A regulamentação das utilidades públicas ou de qualquer outra indústria desestimula investimentos nestes setores, desta forma privando os consumidores da melhor satisfação de seus desejos. Ela distorce a maneira como os recursos são alocados no livre mercado.[31]
O chamado argumento do “monopólio sobre um espaço limitado”, que defende a concessão de monopólios para serviços de utilidade pública é apenas uma distração, argumentou Rothbard, pois o número de empresas que irão operar lucrativamente em qualquer linha de produção
é uma questão institucional e depende de dados concretos, como o grau de demanda do consumidor, o tipo de produto vendido, a produtividade física dos processos, a oferta e a precificação dos fatores, o prognóstico dos empreendedores etc. Limitações espaciais tendem a ser de pouca importância.[32]
Com efeito, mesmo que as limitações espaciais permitissem que apenas uma empresa operasse em um determinado mercado geográfico, isto não necessariamente configuraria um monopólio, pois “monopólio” é “uma denominação que só faz sentido se preços monopolísticos forem implantados”. E “todos os preços em um livre mercado, como liberdade de entrada, são competitivos”.[33] Somente a intervenção estatal pode gerar preços monopolísticos.
A única maneira de se alcançar preços de livre mercado que reflitam os verdadeiros custos de oportunidade e que levem a níveis ótimos de “duplicação” é por meio da liberdade de comercialização, algo possível somente em um livre mercado e totalmente impossível sem propriedade privada e mercados desimpedidos. Decretos políticos simplesmente não são substitutos factíveis para preços determinados pelo livre mercado, pois o cálculo econômico racional é impossível na ausência de mercados.
Havendo propriedade privada de ruas e calçadas, aos proprietários individuais destas seria oferecida a opção de preços mais baixos para os serviços de utilidade pública em troca da inconveniência temporária de ter de permitir que uma empresa de utilidade pública faça uma trincheira sob sua propriedade. Se, neste sistema, ocorrer “duplicações”, então é porque indivíduos com plena liberdade de escolha valoraram a oferta extra de serviços ou os preços menores, ou ambos, de maneira mais elevada do que o custo imposto a eles decorrente da inconveniência de ter de tolerar um projeto de construção temporário em sua propriedade. Mercados genuinamente livres não necessitam de concessões monopolísticas e tampouco geram “duplicações excessivas” em absolutamente nenhum sentido econômico.
O mito do monopólio natural: empresas elétricas
A existência de economias de escala em setores como água, gás, eletricidade e outras “utilidades públicas” de modo algum necessita nem de monopólio nem de preços monopolistas. Um sistema de disputa concorrencial pela concessão da oferta de serviços de utilidade pública pode eliminar precificações monopolistas enquanto houver concorrência para se entrar no setor. Enquanto houver uma vigorosa disputa por esta concessão, os resultados podem ser tanto a não ocorrência de duplicações excessivas de instalações quanto a precificação concorrencial de produtos e serviços. Isto é, a disputa pela concessão pode ocorrer na forma de se entregar os serviços para a empresa que oferecer contratualmente aos consumidores o menor preço pela mesma (e constante) qualidade dos serviços (ao contrário do que ocorre atualmente, em que as concessões cobram preços altos por determinação governamental).
Porém, de acordo com a teoria do monopólio natural, é impossível haver concorrência duradoura nos serviços de eletricidade. Porém, tal teoria é desmentida pelo fato de que houve sim uma persistente concorrência no setor durante décadas em dezenas de cidades americanas. O economista Walter J. Primeaux estudou o setor por mais de 20 anos. Em seu livro Direct Utility Competition: The Natural Monopoly Myth, publicado em 1986, ele conclui que naquelas cidades em que havia concorrência direta no setor de eletricidade:
- A concorrência direta entre duas empresas rivais durava longos períodos de tempo — em algumas cidades, mais de 80 anos;
- As empresas de eletricidade concorriam vigorosamente entre si por meio de preços e serviços ofertados;
- Os consumidores se beneficiavam substancialmente desta concorrência em relação às outras cidades onde havia monopólios concedidos pelo estado;
- Contrariamente à teoria do monopólio natural, os custos são na realidade menores onde há duas empresas operando;
- Contrariamente à teoria do monopólio natural, não ocorria capacidade excessiva em ambientes concorrenciais — o que significa que a justificativa técnica para monopólios não procede;
- A teoria do monopólio natural fracassa em todos os aspectos: a concorrência existe, a disputa de preços não é “deletéria” para o setor, os serviços são melhores e os preços são menores quando há concorrência, a concorrência dura longos períodos de tempo, e os próprios consumidores preferem a concorrência a um monopólio regulado; e
- Qualquer problema de insatisfação dos consumidores gerado pela duplicação de linhas de transmissão é considerado pelos próprios consumidores menos importante do que os benefícios trazidos pela concorrência.[34]
Primeaux também descobriu que, embora os executivos das empresas de eletricidade reconhecessem os benefícios da concorrência para o consumidor, eles pessoalmente preferiam o monopólio. Óbvio.
A questão que deve ser enfatizada é que, em um livre mercado, a simples perspectiva de entrada de concorrência já obriga as empresas concessionárias a reduzir seus custos e, consequentemente, a não elevar seus preços. Os potenciais benefícios para a economia gerados pela desmonopolização das indústrias de utilidade pública são enormes. Primeiramente, a concorrência irá, por certo, reduzir os gastos dos consumidores. Adicionalmente, ela estimulará também o desenvolvimento de novas tecnologias cujo aprimoramento será mais barato, justamente por causa dos menores custos da energia. Por exemplo, montadoras e siderúrgicas fariam um uso muito mais intensivo de ferramentas de corte a laser e de outras máquinas de solda, ambas as quais são grandes consumidoras de elétrons.
O mito do monopólio natural: TV a cabo
Televisão a cabo é uma concessão monopolística em quase todas as cidades também por causa da teoria do monopólio natural. Porém, o monopólio nesta indústria é tudo menos “natural”. Assim como a eletricidade, há nos EUA dezenas de cidades onde há concorrência entre empresas de TV a cabo. “A concorrência direta … atualmente ocorre em pelo menos três dezenas de jurisdições em nível nacional.”[35]
A existência de uma antiga e duradoura concorrência no setor de TV a cabo mostra o quão mentirosa é a noção de que tal indústria é um “monopólio natural” e, portanto, precisa ser submetida a concessões monopolísticas regulamentadas. A causa precípua do monopólio no setor de TV a cabo é justamente a regulamentação governamental, e não as economias de escala. Embora as operadoras de TV a cabo reclamem da “duplicação”, é importante ter em mente que “embora a duplicação de um existente sistema de TV a cabo seja algo que tende a reduzir a lucratividade da operadora existente, trata-se de algo que irá inequivocamente melhorar a posição dos consumidores, que passarão a lidar com preços determinados não por custos históricos, mas sim pela interação entre oferta e demanda.”[36]
Assim como no caso do setor elétrico, pesquisadores descobriram que, naquelas cidades onde há concorrência, os preços das operadoras de TV a cabo são aproximadamente 23% menores do que o das operadoras monopolísticas.[37] Por exemplo, a operadora Cablevision, da Flórida, reduziu seus preços básicos de US$12,95 para US$6,50 por mês em áreas de “duopólio” para poder continuar concorrendo. Quando a Telestat entrou na cidade de Riviera Beach, Flórida, ela oferecia 26 canais básicos por US$5,75, ao passo que a Comcast oferecia 12 canais por US$8,40 por mês. A Comcast reagiu melhorando seus serviços, aumentando sua oferta de canais e reduzindo seus preços.[38] Em Presque Isle, Maine, quando o governo municipal liberou a concorrência, a empresa já instalada teve de rapidamente aprimorar seus serviços, passado de 12 para 54 canais.[39]
Em 1987, a Pacific West Cable Company processou a prefeitura de Sacramento, Califórnia, por ela ter bloqueado sua entrada no mercado de TV a cabo. Os jurados determinaram que “o mercado de TV a cabo de Sacramento não era um monopólio natural e a alegação de monopólio natural era uma impostura utilizada pelo réu como um pretexto para conceder o monopólio para uma única empresa … para assim conseguir mais vultosas contribuições para campanhas eleitorais.”[40] A cidade foi forçada a adotar uma política mais concorrencial para o setor, e o resultado foi que a operadora ali instalada, a Scripps Howard, teve de reduzir seus preços mensais de US$14,50 para US$10 a fim de poder competir com os preços da nova concorrente. A empresa também passou a oferecer instalação gratuita e três meses grátis em todas as áreas onde ela enfrentava concorrência.
No entanto, a grande maioria dos sistemas de TV a cabo continua sendo uma concessão monopolista exatamente pelas razões declaradas pelo júri de Sacramento: são esquemas mercantilistas nos quais um monopólio é criado para beneficiar as empresas de TV a cabo, as quais irão, em troca, compartilhar o esbulho com os políticos que as protegem por meio de a) contribuições de campanha, b) contribuições para entidades apoiados por estes políticos, c) contratos junto aos mais bem conectados politicamente e 4) vários “agrados” para as autoridades responsáveis pela regulamentação.
As barreiras de entrada no mercado de TV a cabo não se devem a economias de escala, mas sim ao tabelamento de preços e às regulamentações perpetradas entre políticos e as empresas.
O mito do monopólio natural: telefônicas
O maior de todos os mitos neste quesito é a noção de que os serviços de telefonia são um monopólio natural. Economistas ensinaram a gerações de estudantes que os serviços de telefonia são um exemplo “clássico” de falhas de mercado e que a regulamentação estatal em nome do “interesse público” era amplamente necessária. Porém, como recentemente demonstrou Adam D. Thierer, não há absolutamente nada de “natural” em relação ao monopólio do setor desfrutado pela AT&T nos EUA por várias décadas; foi tudo puramente uma criação da intervenção governamental.[41]
Assim que as patentes iniciais da AT&T expiraram em 1893, dezenas de concorrentes surgiram. “Ao final de 1894, mais de 80 novos e independentes concorrentes já haviam conquistado 5% do mercado … após a virada do século, já havia mais de 3.000 concorrentes”.[42] Em alguns estados americanos, havia mais de 200 empresas de telefonia operando simultaneamente. Já em 1907, os concorrentes da At&T haviam capturado 51% do mercado de telefonia, e os preços vinham apresentando uma queda acentuada em decorrência desta competição. Ademais, não havia nenhuma evidência da existência de economias de escala, e as barreiras de entrada eram, obviamente, quase que inexistentes, contrariamente ao que defende a teoria do monopólio natural.
A derradeira criação de um monopólio no setor de telefonia dos EUA foi o resultado de uma conspiração entre a AT&T e políticos que queriam oferecer “serviços universais de telefonia”. Tais políticos começaram a denunciar a concorrência como sendo “destruidora”, “duplicadora” e “dispendiosa”, e vários economistas começaram a ser pagos exclusivamente para prestar depoimentos perante comissões no Congresso americano nas quais eles sombriamente declaravam que a telefonia era um monopólio natural. “Não há nada a ser ganho com a concorrência em mercados telefônicos locais”, concluiu uma dessas comissões.[43]
A cruzada para a criação de uma indústria monopolística no setor telefônico por meio de decretos governamentais finalmente obteve êxito quando o governo federal americano utilizou a Primeira Guerra Mundial como desculpa para estatizar a indústria em 1918. A AT&T ainda continuou operando seu sistema telefônico, mas passou a ser controlada por uma comissão governamental gerida pelo diretor geral dos Correios. Como em vários outros exemplos de regulamentação governamental, a AT&T rapidamente “capturou” os reguladores e utilizou o aparato regulatório para eliminar seus concorrentes. “Já em 1925, não apenas todos os estados americanos haviam estabelecido rígidas diretrizes de regulação tarifária, como também a concorrência local no setor de telefonia foi ou desestimulada ou explicitamente proibida dentro daquelas jurisdições.”[44]
Conclusões
A teoria do monopólio natural é uma ficção econômica. Nunca existiu algo como um monopólio “natural”. A história do conceito de utilidade pública advém do fato de que, no final do século XIX e início do século XX, empresas deste setor concorriam vigorosamente entre si e, como todas as outras indústrias, elas não gostavam da concorrência. Elas primeiramente asseguraram monopólios garantidos pelo governo, e então, só então, com a ajuda de alguns poucos economistas influentes, construíram uma argumentação ex post para seu poder monopolístico.
Este certamente deve ser o melhor exemplo de um golpe de relações públicas de todos os tempos. “Por meio de um suave, porém ardiloso processo de argumentação”, escreveu Horace M. Gray ainda em 1940, “é possível fazer com que as pessoas se oponham a monopólios em geral, mas aprovem certos tipos de monopólios. … Dado que estes monopólios eram ‘naturais’ e dado que natural é algo benéfico, concluiu-se que eles eram monopólios ‘bons’. … O governo, portanto, estava correto em estabelecer ‘bons’ monopólios”.[45]
A teoria do monopólio natural é uma ficção econômica do século XIX criada para defender privilégios monopolísticos do século XIX, e não possui lugar em economias modernas do século XXI.
_______________________________
N
[1] Richard T. Ely, Monopolies and Trusts (New York: MacMillan, 1990), p. 162.
[2] John Bates Clark and Franklin Giddings, Modern Distributive Processes (Boston: Ginn & Co., 1888), p. 21.
[3] Herbert Davenport, The Economics of Enterprise (New York: MacMillan, 1919), p. 483.
[4] James L. Laughlin, The Elements of Political Economy (New York: American Book, 1902), p. 71.
[5] Irving Fisher, Elementary Principles of Economics (New York: MacMillan, 1912), p. 330.
[6] E.R.A. Seligman, Principles of Economics (New York: Longmans, Green, 1909), p. 341.
[7] Ibid, p. 97.
[8] Simon Patten, “The Economic Effects of Combinations,” Age of Steel, Jan. 5, 1889, p. 13.
[9] Franklin Giddings, “The Persistence of Competition,” Political Science Quarterly, March 1887, p. 62.
[10] David A. Wells, Recent Economic Changes (New York: DeCapro Press, 1889), p. 74.
[11] George Gunton, “The Economics and Social Aspects of Trusts,” Political Science Quarterly, September 1888, p. 385.
[12] A.W. Coats, “The American Political Economy Club,” American Economic Review, September 1961, pp. 621637.
[13] Thomas J. DiLorenzo, “The Origins of Antitrust: An Interest-Group Perspective,” International Review of Law and Economics, Fall 1985, pp. 7390.
[14] Burton N. Behling, “Competition in Public Utility Industries” (1938), in Harold Demsetz, ed., Efficiency, Competition, and Policy (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1989), p. 78.
[15] Ibid.
[16] George T. Brown, The Gas Light Company of Baltimore: A Study of Natural Monopoly (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1936).
[17] Ibid., p. 31.
[18] Ibid.
[19] Ibid., p. 47.
[20] Ibid., p. 52.
[21] Ibid., p. 75.
[22] Ibid., p. 106.
[23] Horace M. Gray, “The Passing of the Public Utility Concept,” Journal of Land and Public Utility Economics, February 1940, p. 8.
[24] Ibid.
[25] Ibid., p. 9.
[26] Ibid.
[27] Ibid., p. 11.
[28] George Stigler and Claire Friedland, “What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity,” Journal of Law and Economics, October 1962, pp. 116.
[29] Gregg A. Jarrell, “The Demand for State Regulation of the Electric Utility Industry,” Journal of Law and Economics, October 1978, pp. 269295.
[30] Demsetz, Efficiency, Competition, and Policy, p. 81.
[31] Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), pp. 7576.
[32] Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1993), p. 619.
[33] Ibid., p. 620.
[34] Walter J. Primeaux, Jr., Direct Electric Utility Competition: The Natural Monopoly Myth (New York: Praeger, 1986), p. 175.
[35] Thomas Hazlett, “Duopolistic Competition in Cable Television: Implications for Public Policy,” Yale Journal on Regulation, vol. 7 (1990).
[36] Ibid.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Thomas Hazlett, “Private Contracting versus Public Regulation as a Solution to the Natural Monopoly Problem,” in Robert W. Poole, ed., Unnatural Monopolies: The Case for Deregulating Public Utilities (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1985), p. 104.
[40] Pacific West Cable Co. v. City of Sacramento, 672 F. Supp. 1322, 13491340 (E.D. Cal. 1987), citado in Hazlett, “Duopolistic Competition.”
[41] Adam D. Thierer, “Unnatural Monopoly: Critical Moments in the Development of the Bell System Monopoly,”Cato Journal, Fall 1994, pp. 267285.
[42] Ibid., p. 270.
[43] G.H. Loeb, “The Communications Act Policy Toward Competition: A Failure to Communicate,” Duke Law Journal, vol. 1 (1978), p. 14.
[44] Thierer, “Unnatural Monopoly,” p. 277.
[45] Gray, “The Passing of the Public Utility Concept,” p. 10.




